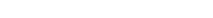Texto Secretaria de Comunicação
No dia 30 de janeiro de 2020, o surgimento do novo coronavírus foi oficialmente declarado uma emergência de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o mais alto nível de alerta da instituição. No dia 11 de março, era declarado oficialmente o início da pandemia.
Naquele momento, não havia um direcionamento preciso sobre quais protocolos seguir. Alguns governos, no entanto, se propuseram a prevenir a disseminação da doença por meio de barreiras sanitárias e recomendações já existentes para outros vírus, como lavar as mãos, evitar aglomerações e contato interpessoal, isolar pessoas contaminadas, assim como usar álcool 70% para desinfetar superfícies.
Num mundo que já experimentou, desde o século 20, ao menos cinco grandes epidemias, estar preparado para lidar com questões sanitárias de impacto global deveria ser premissa obrigatória. Foi o que se viu em países como Nova Zelândia e Coréia do Sul, que realizaram um trabalho quase que imediato no combate à expansão do novo coronavírus (o Sars-CoV-2), vírus causador da covid-19. Por outro lado, Estados Unidos e Brasil adotaram inicialmente uma política de negação, e hoje ocupam o primeiro e segundo lugar, respectivamente, em número de mortes.
Desafios e soluções
O vírus tinha chegado para ficar e trazia características diferentes. O Sars-Cov-2 não era um patógeno circulante na espécie humana – ao contrário de outros da família coronavírus –, mas possivelmente originário e abundante entre morcegos. Por se tratar de um vírus novo para o corpo humano, a resposta imunológica foi deficiente e, logo, facilitou o contágio.
“Como 100% das pessoas nunca tinham tido contato com este vírus, o sistema imune não estava preparado para ele”, explica o professor Jonas Lotufo Brant de Carvalho, do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (UnB). “E isso faz com que ele consiga ser transmitido e encontre mais pessoas suscetíveis, tendo mais velocidade de transmissão”, completa o professor.
Especialistas afirmam, portanto, que seria impossível impedir as infecções, mas uma medida importante poderia ser tomada: agir rápido para controlar ao máximo a transmissão.
A OMS sinalizou que a testagem em massa seria um dos recursos viáveis para reduzir o contágio, juntamente com o isolamento dos doentes. Estratégia que já funcionou em episódios similares e que poderia mudar os rumos da pandemia. Porém, enquanto alguns países conseguiram ampliar sua testagem, outros não. “A testagem em massa poderia ter freado a pandemia, mas é importante compreender que a cadeia de suprimentos, como os materiais para teste, não foi planejada para um cenário pandêmico”, explica o professor Jonas. “A maior parte dos insumos são produzidos em países como Índia e China, e o colapso do sistema acabou privilegiando, primeiramente, os países que produzem os equipamentos e, depois, aqueles que pagavam mais pelo já escasso insumo. Os Estados Unidos, por exemplo, chegaram a pagar o dobro do preço que outras nações para garantir acesso para o seu mercado”, completa o professor.
Contudo, não se pode dispensar a parcela de responsabilidade da estrutura brasileira. O professor lembrou que outro problema que atrasou os testes no Brasil foi a rede laboratorial, despreparada para lidar com o volume de amostras que chegavam todos os dias. “Os países que tinham uma rede preparada, lidaram melhor com essa demanda. O Brasil não tinha, e essa foi a grande falha do governo na gestão da crise: demorou para entender que isso era realmente importante. Então concluiu, naquele momento, que a prioridade não era investir na testagem, como é a recomendação da OMS”, afirma o professor da Faculdade de Ciências da Saúde da UnB.
Falta de liderança
A análise da crise, em especial no Brasil, mostra que a falta de investimentos na área da saúde foi um dos principais agravantes. Não obstante, o professor Jonas Brant aponta um problema ainda mais grave do que a
Em concordância, a professora Soraya Resende Fleischer, do Departamento de Antropologia do Instituto de Ciências Sociais da UnB, acredita que o comportamento do líder é determinante para influenciar o comportamento social. Segundo ela, quando um presidente é eleito, há a concessão de autoridade, que confere a ele a responsabilidade de ter posturas adequadas, sabendo que as pessoas estão constantemente sob sua influência.
“Nova Zelândia, Portugal ou mesmo Dinamarca tiveram lideranças que tomaram decisões logo no início da pandemia, informaram-se dos dados epidemiológicos sanitários e científicos que tinham na época e desenharam uma política nacional com diretrizes centralizadas, que o país inteiro deveria seguir”, exemplifica a professora Soraya Fleischer.
“No Brasil, no entanto, houve a banalização por parte das lideranças desde o começo da pandemia, quando se negou o risco e quando as pessoas começaram a morrer sistematicamente”, completa a docente.
Ela lembrou que as lideranças no Brasil se voltaram fortemente para posturas individuais, negando a ciência, usando mecanismos paralelos de comunicação – como o Twitter, ferramenta amplamente utilizada pelo presidente em exercício – e recomendando medicamentos sem eficácia comprovada.
Vulnerabilidade
Para agravar o cenário no Brasil, políticas públicas ficaram descentralizadas. “Não houve a reunião de informações em uma política ou portaria. As informações foram sendo lançadas em parte pelos seus canais de redes sociais ou pelos pronunciamentos que o presidente fazia à porta do Palácio do Planalto, ou ainda nas visitas que ele fazia às padarias de Brasília. Assim, com depoimentos mais pontuais, ele foi influenciando grande parte da população na não adoção do uso de máscaras e do isolamento social, por exemplo” completa a professora da Antropologia da UnB.
Se o Brasil falhou em trazer rapidez e eficácia ao combate à pandemia, quem mais sofreu com o problema foram certamente os mais pobres. As poucas políticas de assistência e o sistema social precário foram colocados em evidência como poucas vezes na história. Pesquisa realizada pela consultoria Lagom Data para a Revista Época traçou um perfil dos mais atingidos pela doença: pardos ou negros em situação de pobreza.
Para a professora, esse é um ponto muito importante para entender que as políticas públicas devem priorizar essa parcela da população, mais vulnerável. “A covid-19 chega ao Brasil pela elite, pelos portões de desembarque internacional, mas seis meses depois dos primeiros casos, verificamos que a doença atingiu e matou muito mais os pobres do que a própria elite”, afirma.
A covid-19 entrou nas fissuras sociais de vários países, mostrando as bases frágeis. “Nossas estruturas sociais estão ancoradas em desigualdades muito grandes, onde pessoas mais abastadas tiveram a possibilidade de adotar o isolamento, ter acesso às UITs com prioridade e a medicamentos, enquanto os mais pobres precisaram continuar trabalhando para sustentar essa pirâmide social. Isso significou para os menos favorecidos uma exposição maior em transportes públicos, sem a possibilidade do home office, levando o vírus consigo e contaminando sua família no final do dia”, critica a professora Soraya Fleischer.
Na ausência de políticas de assistência direta, a população mais carente precisou abandonar as medidas sanitárias recomendadas. Segundo a docente, isso construiu uma falsa ideia de que o vulnerável é mais descuidado e, portanto, menos merecedor de assistência. “As estruturas das periferias, com habitações menores, inviabilizando o isolamento, a falta de acesso à saúde, a necessidade de continuar trabalhando sem a opção do home office e a ausência completa do Estado atingiu em cheio a parte mais pobre, que é a base do nosso sistema; precisa ficar claro que são vítimas, não responsáveis pela alta transmissão”, conclui.
No front
Outra classe que enfrentou o vírus na linha de frente foi a dos trabalhadores da saúde, que também tiveram que lidar com a ausência de políticas públicas de assistência aos profissionais que atuam no tratamento da covid-19, sobretudo no Sistema Único de Saúde (SUS). Falta de insumos, de remédios, de equipamentos de proteção individual (EPIs) e de ambientes adequados expuseram duas vulnerabilidades críticas: a alta taxa de contaminação dos profissionais da saúde, em especial enfermeiros e médicos, e um suporte psicológico praticamente inexistente a eles.
André Bon Fernandes da Costa, médico infectologista no Hospital Universitário de Brasília (HUB), estava no front da pandemia e atestou todas as deficiências. “A maior foi, sem dúvida, a segurança. Todos os profissionais tinham medo de que os EPIs acabassem e, em dado momento, houve escassez em diversos hospitais, com limitações importantes. Medicamentos e equipamentos para tratar os pacientes também foram parte dessa carência”, afirma o médico.
Do ponto de vista das políticas públicas, era preciso um governo mais presente, segundo ele. “Faltou um Ministério da Saúde mais atuante. No começo, tínhamos um ministro fazendo atualizações de forma frequente, o que se perdeu posteriormente. Desta forma, deixamos de ter políticas centrais, que são muito importantes para evitar que cada lugar faça uma coisa diferente. Isso gerou um problema muito grande no país inteiro relacionado a diversos processos de enfrentamento dissonantes”, afirma.
O professor Jonas Brant, que também é especialista em Recursos Humanos para a Saúde, reforçou as vulnerabilidades dos profissionais de saúde diante da pandemia. Do ponto de vista de estratégia e políticas públicas, ele criticou a saída dos médicos cubanos do programa Mais Médicos, o que culminou na desassistência de populações mais isoladas e na sobrecarga dos profissionais brasileiros. O docente pontuou ainda a deficiência das tecnologias de informação (TI), sobrecarregadas e sem interoperabilidade, o que dificultou a gestão dos registros da pandemia de maneira coordenada. Para ele, a modernização dos sistemas de TI deve ser um dos focos nas políticas públicas para a saúde nos próximos anos se o país quiser lidar melhor com a gestão de futuros eventos como este.
Se tempo é precioso no combate a uma pandemia, é preciso ter a capacidade de se antecipar aos eventos. Segundo o professor Jonas, não é possível prever quando e onde uma pandemia irá ocorrer, mas o mundo já dispõe de recursos para analisar locais de risco potencial. “O que sabemos é que quando se identifica um novo vírus com potencial pandêmico é preciso responder rápido, enquanto a sua disseminação pode ser controlada em pequenos surtos”, sintetiza.