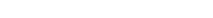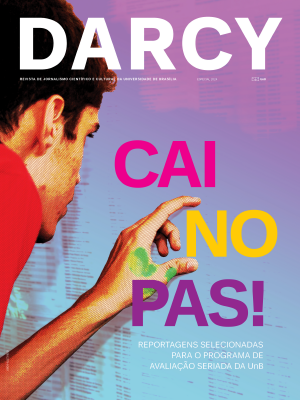Por conta das chamadas fake news, a internet virou um mar difícil de navegar. A desinformação existe desde que o mundo é mundo, mas as mídias sociais deram uma turbinada nas mentiras
Desde que o ser humano aprendeu a se comunicar, a mentira corre solta. A lista é extensa e não poupa quase ninguém, em nenhum período histórico. Lá no Império Romano, um boato se espalhou com a notícia de que o imperador Nero havia botado fogo em Roma. Ele reagiu inventando outro boato, de que a culpa era dos cristãos.
Aqui pelo Brasil, o Plano Cohen, documento criado pelos militares para alertar sobre uma possível revolução comunista, foi invenção que teve consequências importantes: culminou com o golpe que instituiu o Estado Novo, a partir de 1937, dando início à Era Vargas. Nem as crianças escaparam: na década de 1980, circularam rumores em torno da apresentadora Xuxa. Um deles garantia que a boneca dela vinha com uma faca em seu interior.
Algumas dessas mentiras foram desmascaradas, outras não. Até hoje não se tem certeza das circunstâncias do incêndio que arrasou Roma. De uma verdade não podemos fugir: sempre fomos vulneráveis a informações inverídicas. “Muitas guerras começaram a partir de informações falsas ou distorcidas”, diz o professor Yurij Castelfranchi, do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ele lembra que o nazismo construiu uma narrativa monstruosa sobre os judeus, para justificar o genocídio: “A esfera pública sempre foi influenciada pela construção de falsidades repetidas, que adquirem valor de verdade”.
Antes do uso massivo da internet e das mídias sociais, narrativas não verdadeiras eram difundidas principalmente por governos, estados ou grupos organizados e poderosos. Os objetivos eram sempre escusos e visavam propósitos econômicos, políticos ou religiosos. Hoje o quadro está um pouco diferente: a fonte produtora da mentira se diversificou. Notícias falsas são espalhadas agora também por anônimos, graças às ferramentas digitais disponíveis.
“As mídias sociais são o principal mecanismo para disseminar fake news, pois permitem alcance grande e velocidade alta. Além disso, essas plataformas se responsabilizam pouco pelos conteúdos que ali circulam”, explica Gregório Fonseca, doutorando em Comunicação Social na UFMG, onde pesquisa a desinformação científica nas mídias sociais.
É neste contexto de popularização de sites, como Facebook, Twitter e YouTube, que surge a expressão fake news. Apesar do termo estar bastante difundido, especialistas preferem o termo “desinformação”, para conseguir abarcar não só notícias falsas, mas boatos, memes, sensacionalismo, meias-verdades, notícias exageradas, posts de mídias sociais errôneos ou imprecisos, ou seja, todo o arsenal de conteúdos que serve basicamente para desinformar. “O termo fake news foi banalizado. Ele é usado, em muitos casos, para se referir a notícias com as quais a pessoa simplesmente não concorda”, adverte Gregório Fonseca, que atua também como engenheiro de software na Boeing Brasil – antiga Embraer, a empresa fabricante de aviões.
Paradoxalmente, apesar de termos o mundo na palma da mão, a enorme quantidade de informação disponível não esclarece, ao contrário, confunde as pessoas. “A internet torna o fluxo de informação um oceano turbulento em que é difícil navegar. Por causa de tantas informações, tornou-se difícil estar bem informado”, resume o professor Castelfranchi, que é diretor de divulgação científica da UFMG.
ESPALHANDO MENTIRAS
Estudo do pesquisador Soroush Vosoughi do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) mostrou que notícias falsas têm 70% mais chances de serem retuitadas do que as verdadeiras. Mas, afinal, quem propaga fake news? São dois tipos de difusores: de um lado, os que acreditam nelas por ignorância e, de outro, aqueles que fazem isso por opção.
O primeiro grupo é composto por cidadãos com pouca educação (ou alfabetização) informacional. É difícil para este tipo de usuário reconhecer o que é verdade ou não nos sites em que navega. Expostos a um turbilhão de informações inverídicas de forma repetitiva, fica a falsa impressão de conhecer bem determinado assunto. Como resultado, surgem grupos de pessoas para as quais é quase impossível desmentir um dado.
O fenômeno foi batizado de dunning- kruger: ele refere-se às pessoas que têm pouco conhecimento, mas acreditam saber mais do que outras melhor preparadas. A atitude dessas pessoas contrasta com aquelas com alto nível de conhecimento, que costumam perceber que não dominam todos os conteúdos e adotam posturas mais modestas.
O segundo grupo é formado por aqueles que acreditam na notícia falsa, não por ignorância e, sim, por vontade. São indivíduos que desenvolveram grau alto de desconfiança nas instituições, contra o estado, o governo e contra os políticos, e são fortes candidatos a propagar mentiras de forma irresponsável, por mais absurdas que sejam. Assim, justificam rancor, ódio e rivalidade e legitimam preconceitos.
Os conteúdos são compartilhados por que despertam emoções, como surpresa ou revolta. Neste grupo, o grau de escolaridade muitas vezes é alto. “No movimento antivacina – formado por pessoas que se recusam a tomar vacinas e acham que elas fazem mal à saúde – muitos detêm formação acadêmica considerável, com pós-graduação”, ilustra Gregório.
A descrença nas instituições e consequentemente a crença em fake news torna-se mais latente em momentos de disputa, como períodos eleitorais. Castelfranchi afirma: “Quando grupos rivais constroem um clima de polarização, em que o outro é o corrupto e o maligno por natureza, as pessoas desejam acreditar em todo tipo de notícia que surja contra o inimigo. O grau de confiança nas fontes oficiais (governo, política, ciência, universidades) cai e o número de pessoas que acreditam em teorias da conspiração aumenta. Sobretudo, aumenta o número de pessoas movidas pelo ódio, que decidem espalhar a notícia sem se preocupar se são falsas”.
Segundo o professor da UFMG, seria interessante desenvolver pesquisas para descobrir qual é especificamente o conjunto de regras que os usuários utilizam para discernir informações verdadeiras de falsas.
AMEAÇA À DEMOCRACIA
Os prognósticos não são otimistas. O fenômeno das fake news semeia a desconfiança em todos os níveis. É o que pensam vários estudiosos, entre eles o professor Paulo José Cunha. Na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB), ele ministra disciplina pioneira sobre fake news no curso de Jornalismo. “Está havendo um ataque planetário à democracia e às instituições. A democracia está sob ameaça neste exato momento”, alerta Cunha.
E o que fazer? Segundo o professor, a única alternativa, a curto prazo, é estar com o desconfiômetro ligado o tempo todo, ou seja, é preciso questionar tudo o que se lê e se vê. Porém, a tarefa não é tão simples, pois implica uma educação prévia que possibilite ao cidadão separar o joio do trigo.
A longo prazo, Paulo José acredita que é preciso adotar um conjunto de medidas em várias áreas: jurídica, legislativa, educacional, passando pelo controle das plataformas de mídias sociais. “Por que é invasão de privacidade quebrar o sigilo do WhatsApp e por que isso não existe em relação às contas bancárias, quando a pessoa comete um crime?”, questiona o professor da UnB.
Sites de mídias sociais já estão tomando algumas medidas, ainda tímidas. Recentemente, o WhatsApp pôs em prática duas novas ações: estampa o aviso de que determinada mensagem foi encaminhada e limita a quantidade de remetentes por mensagem, que agora é de cinco pessoas, no máximo, por vez. “É preciso fazer mais. A responsabilidade das plataformas é muito grande”, enfatiza Cunha.
A discussão em torno do controle dos conteúdos nas mídias sociais é polêmica e ganhou novos ares à luz das eleições presidenciais dos Estados Unidos, em 2016. Facebook, Twitter e Google foram acusados pelo Congresso norte-americano de negligência em relação à livre circulação de notícias falsas e nocivas, supostamente publicadas por usuários ligados ao governo da Rússia. Estes últimos teriam, por meio de fake news e de perfis inventados, influenciado e determinado o resultado das eleições norte-americanas.
Uma importante medida, segundo Paulo José Cunha, seria começar a educação midiática já no ensino básico, junto com a oferta de conteúdos humanísticos, como Filosofia e Sociologia, a fim de garantir espírito crítico aos alunos. Além disso, medidas jurídicas e legais são necessárias, porém são outro ponto de discussão. Elas são, muitas vezes, inócuas do ponto de vista da efetividade prática, pois não é raro que sejam tomadas tarde demais. Foi o caso da retirada pelo Facebook de perfis falsos durante a campanha eleitoral no Brasil e nos Estados Unidos.
A medida veio quando o estrago já estava feito. Isso por que o processo legal costuma ser lento, precisa cumprir várias etapas. “Como concorrer com o Judiciário, que é conhecido pela morosidade, com uma informação que circula na velocidade da luz?”, questiona o professor da UnB. Em suma, a responsabilidade parte de vários atores, como governo, escolas, empresas de mídias sociais, universidades, pessoas públicas em geral, imprensa e até do próprio cidadão que tem uma consciência mais crítica. É preciso também discutir mais o assunto junto à população, preconizam os especialistas.
Além de ameaçar a democracia, as fake news atingem diretamente a integridade física das pessoas. Boatos podem resultar em linchamentos públicos. Notícias mentirosas ou equivocadas na área da saúde afetam milhares de pessoas no mundo todo. São os chamados fake issues, ou itens inverídicos.
FAKE ISSUES
Os fake issues ou falsas questões são temas que eram tratados como naturais, mas foram urdidos como falsas controvérsias, criadas a fim de se obter algum resultado político, econômico ou religioso. São alimentados pelo já mencionado descrédito na ciência, no governo, nas universidades, em suma, nas instituições. No pacote, estão discussões sobre a necessidade de imunização contra doenças – que resultou no equivocado movimento antivacina –, a ideia absurda de que a Terra seria plana, e até dúvidas de que o homem tenha pisado na Lua, o que já foi comprovado de diversas maneiras.
Questionamentos em torno do aquecimento global também aumentam no mundo todo, gerando atrasos na formulação de políticas públicas. “Não existe essa controvérsia [de mudança climática] entre os cientistas, isto já é um consenso. Porém, criou-se uma polêmica artificial, com o objetivo de atrasar os acordos internacionais, e impedir, por exemplo, uma regulamentação mais forte sobre a emissão do carbono”, destaca o professor Yurij Castelfranchi.
Vale lembrar que o processo de regulamentação do cigarro, que começou na década de 1970, também sofreu durante anos por conta dos fake issues, que colocavam em dúvida os malefícios do tabaco e a associação entre este e o câncer, de forma proposital para adiar as campanhas de saúde.
JORNALISMO PROFISSIONAL
Nesse mar de desinformação, um papel que se destaca é o dos jornalistas profissionais, os únicos com preparo suficiente para filtrar conteúdos. A atividade opera dentro do protocolo de seleção e coleta de dados para as notícias e já possui um radar para afastar conteúdos inverídicos. O jornalista tem a obrigação de ouvir (pelo menos) os dois lados envolvidos em determinado fato, trabalha com a desconfiança ligada o tempo todo e não pode passar para a frente informação sobre a qual não tenha certeza. Ainda tem a obrigação de checar as fontes para ver se elas são confiáveis.
“O Jornalismo deveria ser ainda mais valorizado. A profissão, por mais que tenha defeitos, ainda é o último bastião da busca da verdade. Mas precisa se cuidar bastante, pois também está sujeita às fake news”, afirma Paulo José Cunha.
Os desafios são grandes. Dentro do novo ecossistema das mídias sociais, em que o jornalista nem sempre é o produtor do conteúdo, é necessário pensar em novas táticas de circulação alternativa das informações reais, objetivas, verdadeiras. O que seria um jeito também de combater a desinformação. “O problema é que nem sempre o jornalista pode atuar nesse meio com eficácia, pois as pessoas estão acessando um fluxo de informação que não está no controle dos meios oficiais de informação”, conclui o professor.
MEDIDAS EUROPEIAS DE COMBATE
Assim como governos, instituições e pesquisadores no mundo todo, a União Europeia (UE) considera que o fenômeno das fake news representa grave ameaça à democracia. Assim, a UE levantou e divulgou questões para guiar o combate às mentiras que circulam na internet. É preciso:
- Construir mecanismos de alfabetização tecnológica e informacional para o público, ou seja, dar ao público instrumentos para que ele possa aprender a checar e a desconfiar dos conteúdos. A UE está fazendo isso na forma de manuais e tutoriais on-line.
- Desenvolver instrumentos automáticos, como ferramentas de inteligência artificial, que detectem as fake news. Esse tipo de projeto já está sendo feito em diversos países, inclusive em universidades brasileiras, como a UFMG.
- 3) Construir novas regulamentações, leis que obriguem sites a colocar de forma visível o número de robôs (bots) que operam ali, o quanto de dinheiro é investido naquele ambiente, e de onde vem o financiamento.
- 4) Investir em novas pesquisas para entender melhor quais são os mecanismos de difusão das fake news, ou seja, o que faz exatamente com que as pessoas acreditem nesse tipo de conteúdo.